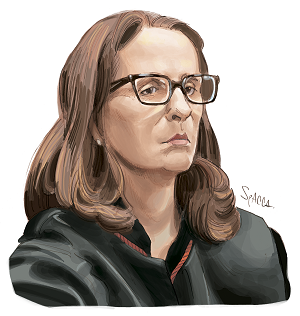
Entre
dezembro de 2015 e agosto de 2016, o Jornal Nacional, da TV Globo,
dedicou 17 horas ao ex-presidente Lula. Treze dessas horas foram de
noticias consideradas negativas e as outras quatro, de notícias neutras.
O levantamento, do projeto Manchetömetro, da Uerj, foi enviado à ONU
pela defesa do ex-presidente.
No semestre seguinte, o
Manchetômetro fez outro estudo, agora envolve os jornais impressos. As
pesquisadoras Patrícia Bandeira de Melo e Márcia Rangel Candido
analisaram como
O Globo,
Folha de S.Paulo e
Estadão trataram o ex-presidente Lula e o ex-juiz Sergio Moro.
Moro,
então à frente da “lava jato”, passara a ser tratado pela imprensa como
antagonista de Lula – muito embora o antagonista do réu num processo
seja a acusação, e não o juiz. As pesquisadoras concluíram que, entre
janeiro e maio de 2017, 79% das noticias sobre Moro nos jornais foram
neutras. Nos mesmos jornais, 79% das notícias sobre Lula foram
contrárias.
São indícios de que os maiores veículos de comunicação
do país apoiaram um desfecho específico das acusações que pesam contra
Lula. É o que alguns países chamam de “publicidade opressiva”. É quando
“o veículo começa a divulgar, de maneira sistemática, notícias sempre
tendendo para um lado, geralmente pela condenação”, explica a
desembargadora
Simone Schreiber, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
A desembargadora é autora do livro
A Publicidade Opressiva de Julgamentos Criminais,
resultado de sua tese de doutorado, defendida em 2008 sob orientação do
ministro Luís Roberto Barroso. No texto, ela explica que a publicidade
opressiva se caracteriza quando o noticiário sobre um processo fica tão
ostensivo que a situação dos réus ou investigados fica prejudicada,
especialmente em casos que vão a júri. A campanha midiática torna-se tão
agressiva que um julgamento imparcial torna-se impossível.
Na
tese, Schreiber procurou definir o fenômeno da maneira mais objetiva
possível, para poder sugerir medidas para atenuar os efeitos da
publicidade opressiva. Entre elas, o sequestro dos jurados, a proibição
de que os envolvidos no caso falem com jornalistas ou que comentem o
processo fora das situações forenses. Ou, em último caso, proibir que
sejam publicadas notícias e reportagens sobre aquele caso.
Mas o
que se observa hoje, é um novo capítulo desse fenômeno, analisa a
desembargadora. "A ‘lava jato’ inaugurou um novo patamar de relação de
juiz com a imprensa", afirma, em entrevista à
ConJur.
"Ele não é mais aquele ator que se depara com uma situação de
publicidade opressiva e passa a se preocupar com isso, que entende que é
preciso conduzir o processo apesar da pressão da mídia."
"O que a
imprensa divulga não pode influenciar o desfecho do processo",
sentencia Schreiber. "O julgamento justo tem que se basear na verdade
processual."
Leia a entrevista:
ConJur
— O livro diz que os vários interesses da imprensa podem afastá-la do
interesse público. Isso quer dizer que a senhora defende algum tipo de
regulamentação da imprensa?
Simone Schreiber — Não. É
difícil haver algum tipo de regulamentação que não importe em restrição
da liberdade de imprensa. Especialmente neste momento que o Brasil está
vivendo, de certa fragilidade institucional na relação entre os
poderes. Sei que alguns defendem isso por ver monopólio em alguns
setores, mas as mídias sociais quebraram um pouco isso. Nas eleições,
por exemplo, Alckmin fez acordo com vários partidos em troca de tempo de
TV na campanha achando que aquilo seria determinante, mas ficou
patinando. Bolsonaro não tinha muito tempo e acabou vencedor. E aqui no
Brasil, dificilmente alguma regulamentação da imprensa passaria pelo
crivo do Supremo.
ConJur — O livro distingue a “verdade processual” da “verdade jornalística”. É possível conciliá-las?
Simone Schreiber — O
julgamento justo tem que se basear na verdade processual. Na tese,
defendi que o juiz tem que tomar algumas medidas de proteção do acusado
justamente para que a verdade jornalística, ou seja, aquilo que é
noticiado pelos jornais, não influencie de forma indevida o processo.
ConJur — O que é, então, “verdade processual”?
Simone Schreiber — É
a verdade que sobressai do processo após a produção das provas dentro
do devido processo legal. O juiz tem que se contentar com aquela verdade
que surge no processo, porque isso é uma premissa de que houve um
processo justo.
ConJur — É possível impedir que a imprensa influencie um julgamento?
Simone Schreiber — O que a
imprensa divulga não pode influenciar o desfecho do processo. Agora,
como fazer isso? Minha tese de doutorado partiu do pressuposto que o
juiz tem uma posição de proteção e que, se ele se deparar com uma
situação de publicidade opressiva, deve adotar medidas para proteger o
acusado e zelar para que o processo tenha uma condução serena. Então, na
minha concepção, o juiz era um ator que zelava pelo processo justo.
ConJur — Era?
Simone Schreiber — A “lava jato”
inaugurou um novo patamar de relação de juiz com a imprensa. Ele não é
mais aquele ator que se depara com uma situação de publicidade opressiva
e passa a se preocupar com isso, que entende que é preciso conduzir o
processo apesar da pressão da mídia. Na operação “lava jato”, o juiz
Sérgio Moro claramente recorreu à imprensa e à opinião pública.
ConJur — Ele defende isso abertamente, inclusive escreveu isso naquele artigo famoso, de 2005.
Simone Schreiber — Exatamente.
Ele diz que precisa ser apoiado numa empreitada de combate à corrupção.
Numa palestra de 2016, em São Paulo, ele disse o seguinte: “Eu me
disponho a ir até o final nos meus casos, mas esses casos envolvendo
graves crimes de corrupção e figuras públicas poderosas só podem ir
adiante se contarem com o apoio da opinião pública e da sociedade civil
organizada. Esse é o papel dos senhores”.
Ao
mesmo tempo em que ele diz que julgará de acordo com a lei, conclama a
sociedade a apoiá-lo. E é evidente que o papel da imprensa na condução e
no desfecho desses processos foi fundamental em vários momentos. Isso é
superinteressante, porque a Polícia Federal e o Ministério Público
aprenderam a lidar com as assessorias de imprensa para divulgar seus
trabalhos de maneira muito profissional.
ConJur —
Tanto o MP quanto a PF alegam que essas entrevistas coletivas são
formas de dar transparência à atuação deles, de prestar contas à
sociedade. Mas a partir de que ponto isso já não é publicidade
opressiva?
Simone Schreiber — Não
sei se há resposta exata para isso. Essas operações são sempre muito
espetaculosas — então o espetáculo é parte delas. A princípio a
investigação é sigilosa, e o sigilo é importante para quem está sendo
investigado. A imprensa pode noticiar que foi deflagrada uma operação
policial, que foram cumpridos mandados nas casas dos suspeitos, mas
acompanhar ao vivo é excessivo. É expor desnecessária e
desproporcionalmente essas pessoas, o que não é necessário para o
sucesso das investigações.
Isso
é muito interessante nesse ambiente de colaboração premiada, também um
ingrediente da “lava jato”. A exposição dessas pessoas também é uma
forma de pressioná-las a colaborar. Não só a prisão, mas a divulgação de
informações privadas, vazamentos de conversas telefônicas
constrangedoras e a exposição daquela pessoa são bem importantes para
que ela se sinta compelida a assinar o acordo de colaboração. E mesmo
que a denúncia seja rejeitada ou a pessoa seja absolvida, já se criou um
estigma.
ConJur — Essa divulgação das operações e dos passos da investigação não são também ações de marketing?
Simone Schreiber —
Propaganda institucional é uma coisa muito interessante. É uma coisa de
ocupação de espaço, de poder de prestígio institucional junto à
população. Polícia e MP têm brigas sobre várias questões sensíveis. O MP
conseguiu um espaço de poder de investigação que não está na
Constituição, mas eles foram fazendo e, em determinado momento, depois
que já tinham feito investigações importantes, mesmo sem previsão
constitucional ou legal, foram autorizados. Então é uma atuação
institucional de obter prestígio junto à sociedade.
ConJur — A senhora comentou uma palestra de Moro. Juízes podem comentar casos em que atuam ou em que atuaram?
Simone Schreiber —
Comentar casos que estão em andamento, principalmente aqueles em que
você não está no processo, é bem complicado. É justamente essa sensação
das partes de que o juiz já tem predisposição a julgar de alguma
maneira. As partes têm o direito subjetivo à expectativa de um juiz
imparcial, que julgue com independência, com base no que está no
processo.
Tem uma entrevista do Bretas ao
Valor Econômico em que ele fala sobre o Sérgio Cabral, que eu até separei para falar em sala de aula: “Já
estamos investigando transporte, saúde, obras, alimentação e joias. Mas
nessa questão das joias existe uma dúvida ainda, eu ainda não decidi a
respeito. Se a joia era propina ou ostentação ou se era lavagem de
dinheiro. Isso eu tenho que ver com calma”. Com todo respeito ao
Bretas, ele se manifestou já dizendo que o Cabral é corrupto. Os juízes
passaram a se manifestar sobre casos que estão julgando na imprensa. Não
é adequado.
ConJur
— A quantidade de prisões preventivas ilegais já virou um problema
histórico no Brasil, mas parece que o uso delas como antecipação de pena
tem se agravado. Isso decorre dessa publicidade opressiva também em
cima dos juízes?
Simone Schreiber — É
difícil dizer se a publicidade opressiva influencia juízes a manter as
pessoas presas. É engraçado: os juízes que prendem mais sempre partem da
premissa de que o juiz mais rigoroso precisa de uma dose extra de
coragem. E agora, com essa onda de punitivismo apoiada pela mídia que
apareceu com a “lava jato”, o juiz que manda soltar também precisa de
uma dose extra de coragem. O que vejo, na verdade, é uma coisa muito
ruim, que é o MP acossar a imprensa para atacar juiz que concede
liberdade, como aconteceu aqui, até na “lava jato”. E isso fica sendo
insuflado pela imprensa, o que é difícil. Todos os juízes devem ser
respeitados. Não é correto isso de xingar juiz, vaiar juiz, enfim,
qualquer pessoa. Essa coisa do esculacho público. É terrível que as
pessoas se sintam à vontade para xingar e constranger as outras. O
ministro Gilmar foi submetido a esse constrangimento no avião, um
ambiente do qual você não pode nem sair. É uma covardia. É triste.
ConJur
— O procurador Deltan Dallagnol é talvez o mais famoso por fazer isso
que a senhora comentou: quando vai haver um julgamento, ele vai à
imprensa, às redes sociais, e convoca as pessoas a ficar do lado dele, a
pressionar o Judiciário. Isso é publicidade opressiva?
Simone Schreiber — Isso é
usar a imprensa para pressionar o tribunal. E ele faz isso de maneira
muito ostensiva. Como no caso da competência da Justiça Eleitoral para
crimes conexos, que o Supremo ia decidir. Ele conclamou a população.
Isso não é correto. Mas quando eu falo em publicidade opressiva, falo de
quando se cria um ambiente em que uma campanha na mídia passa a
defender determinado desfecho no processo. O seu exemplo é ampliar um
pouco o tema, mas concordo.
ConJur — Minha questão é: autoridades também cometem publicidade opressiva? Ou só a imprensa?
Simone Schreiber — Não
sei o que o Supremo diz sobre isso, mas acredito que considere essa
conduta estatal abuso de autoridade, que é um tipo penal que não tem
muita descrição do que seja. Não sei se esse caso do Dallagnol chega a
caracterizar abuso de autoridade, mas talvez possa ser uma falta
funcional para ser apurada pelas corregedorias competentes. Estou sendo
cautelosa, porque não tenho certeza se isso pode ser enquadrado em
alguma coisa, se falta funcional ou crime. Agora, esse discurso de que o
MP precisa da opinião pública porque a Justiça sozinha não vai
conseguir fazer a coisa certa tem por trás um entendimento da doutrina
norte-americana, de que você tem que estar sujeito a escrutínio público e
de que nada pode funcionar se não for num ambiente de liberdade de
expressão. O que estamos vendo é até que ponto essas manifestações são
legítimas e até que ponto são indevidas por impedirem o Judiciário e as
instituições de funcionar como deveriam.
ConJur
— Sua tese foi orientada pelo ministro Luís Roberto Barroso, que tem
posições controversas sobre a relação entre a “opinião pública” e o
Judiciário. Ele defende, por exemplo, que certos entendimentos do
Supremo precisam “evoluir” conforme o “sentimento social”.
Simone Schreiber — É
muito complicado dizer isso. Quando o juiz invoca esse “sentimento
social”, está querendo justificar uma posição que é dele. O juiz, quando
traduz o sentimento social, diz o que ele acha que seja esse
sentimento. Por que o que ele entende como correto é o que refle o
“sentimento social”? E ainda que seja, ainda que as pessoas tenham o
sentimento de que políticos têm que ser punidos, a Justiça tem que se
guiar pela opinião da população ou pelas normas constitucionais? O
ministro Barroso sempre afirmou que a Justiça é o espaço contra
majoritário, de defesa dos direitos das minorias. Acho que quando ele se
tornou ministro, acabou revendo algumas posições.
Essa
discussão de o “sentimento social” guiar decisões já foi travada
algumas vezes. O ministro Celso de Mello, por exemplo, diz que não
importa o que acha a população, o Supremo tem que decidir conforme as
normas constitucionais e assegurar direitos independentemente do que a
opinião pública entenda.
A
sociedade precisa ser confrontada com o seguinte: vale a pena viver num
Estado Democrático de Direito em que há uma Constituição que deve ser
respeitada? Se você deseja isso para você, a Justiça tem que funcionar
dessa forma. Nem sempre as decisões judiciais vão atender às
expectativas da sociedade e é difícil explicar que aquela pessoa que
saiu estampada na capa dos jornais como corrupta é inocente, que existe
uma coisa chamada devido processo, com direito de defesa. Concordo com
Barroso quando ele critica a demora do Judiciário. Ele traz vários
exemplos de casos sem solução que demoram 10, 20 anos. A gente tem que
ter o compromisso com a celeridade e eficiência, mas não pode transigir
com o respeito às garantias fundamentais. É difícil.
ConJur
— O ministro Fux diz que em casos de conflitos entre pessoas, de fato, a
opinião pública não importa. Mas em casos que envolvem questões
sociais, é preciso saber o que as pessoas pensam. Existe mesmo essa
distinção entre casos em que a opinião pública importa e casos em que
não importa?
Simone Schreiber — Existem no Supremo várias formas de a sociedade intervir nos processos, como a figura do
amicus curiae
ou as audiências públicas, nesses casos que de fato interessam à
sociedade de forma geral, como criminalização da homofobia,
descriminalização do aborto, casamento homoafetivo, drogas, questões
mais relacionadas a teses. Mas será que alguém fez um teste para saber o
que a opinião pública pensa desses casos de execução penal? O MP quando
estava defendendo aquelas dez medidas botava uma pessoa em cada esquina
da cidade perguntando “você é contra a corrupção? Então assina aqui”.
Eu passei por uma dessas. E aí juntaram zilhões de assinaturas de
pessoas que não sabiam exatamente o que se estava defendendo ali. Só
sabiam que era contra a corrupção.
ConJur — Um trecho da sua tese diz que há casos em que a proibição de publicar notícias é válida. Que casos seriam esses?
Simone Schreiber — O que
digo é que, depois de identificada uma situação de publicidade
opressiva, há medidas que o juiz pode tomar para proteger o acusado
dessa situação. Sugiro diversas medidas que não interferem na liberdade
de expressão, como adiar o julgamento, sequestrar os jurados, como
acontece às vezes nos Estados Unidos — também temos, mas aqui é desde o
início do julgamento. E aí se essas medidas não tiverem efeito, aí se
partiria para medidas que restringem a liberdade de expressão. Começo
das menos restritivas, como proibir de dar entrevista, decretação de
sigilo do processo (seria constitucionalmente, porque temos a garantia
do sigilo da fonte). A última medida seria proibir a veiculação de
reportagens sobre o assunto durante determinado período. Seria de fato
uma medida com caráter de censura.
ConJur — Isso passaria no Supremo?
Simone Schreiber — Não
sei, porque o Supremo está numa tendência de privilegiar sempre a
liberdade de expressão. É uma medida muito questionável do ponto de
vista constitucional, porque a censura é proibida, mas estaria amparada
numa situação em que seria a única medida possível naquele caso de
proteger um direito que se revelaria mais importante que a liberdade de
expressão.
Basicamente, o
que eu descobri é que se dá mais importância à liberdade de expressão
porque ela não tem uma expressão só individual, mas uma instrumental em relação à democracia. Para a democracia funcionar, precisa ter liberdade de expressão. Mas o
direito a um julgamento justo também é um direito fundamental em uma
democracia. Essa foi a tese que eu defendi. Então, em situações limite
seria possível, dentro da Constituição, limitar a publicação de reportagens.
ConJur
— Quando proibiu um site de divulgar informações sobre o inquérito das
fake News, o ministro Alexandre de Moraes disse que a publicação havia
veiculado “notícia falsa”. Mas depois se descobriu que, de fato, havia
uma delação premiada que mencionava o trecho que incomodou os ministros.
Como conciliar isso? Como definir o que é “notícia falsa” do que não é?
Simone Shcreiber — O
Supremo já disse que o conteúdo dessas delações tem valor reduzido até
que seja corroborado por outros elementos. Portanto, a fala do delator
não tem valor por si, ela não pode servir para decretar prisão, para
condenar, nada. O MP, quando tem acesso a uma declaração dessas, deve
exigir que a pessoa traga elementos de corroboração, afinal, está
incriminando alguém. Quando vazam isso para a imprensa, causam um grande
mal à pessoa que está sendo acusada. O Supremo deveria criar uma
proteção em relação a essas divulgações indevidas. A pessoa que é
apontada pelo colaborador tem o direito de ser preservada, de ter sua
imagem preservada.
ConJur — Mas o que fazer se é o MP quem vaza para a imprensa?
Simone Schreiber — Aí é o
problema do sigilo da fonte. Quando estava fazendo minha tese me
deparei com um caso definido por um tribunal nos EUA em que foi
permitido se abrisse o sigilo da fonte. O sigilo da fonte é um direito
fundamental que integra a liberdade de expressão. Sem ele, a pessoa não
se sentiria segura para dar a informação. Mas será que num caso como
esses, de o MP vazar informações que deveriam ser sigilosas para expor
pessoas, o sigilo da fonte não pudesse ser quebrado? Essas situações são
difíceis, envolvem direitos constitucionais.
ConJur — A forma como as delações foram usadas pela “lava jato” pode ser considerada publicidade opressiva?
Simone Schreiber — A
delação em si, não. Agora, o uso da delação no processo penal precisa de
algumas cautelas. A nº 1 é o colaborador de fato trazer elementos que
corroborem o que ele está falando. Essa questão de usar a imprensa para
expor o investigado e fazê-lo delatar, aí, sim, poderia ser publicidade
opressiva. Mas vazar informações sobre delatados para a imprensa não tem
a ver com o instituto da colaboração. Na tese, faço essa distinção.
Publicidade opressiva é a publicação de reportagens para influenciar o
resultado de um julgamento. Essa situação do vazamento de delações tem a
ver com a irresponsabilidade das pessoas que estão lidando com aquele
material.
ConJur — Então seria apenas quando a imprensa, ou um veículo, deixa claro que quer determinado resultado no julgamento.
Simone Schreiber — Quando
o veículo começa a divulgar, de maneira sistemática, notícias sempre
tendendo para um lado, geralmente pela condenação. Isso tem como
resultado a possibilidade de influenciar no resultado de um julgamento.
Tentei caracterizar isso na tese de forma bem objetiva, até porque
queria sustentar algumas medidas possíveis que pudessem ser adotadas.
Então, não seria a merda divulgação de fatos, e nem qualquer divulgação.
Teria que haver alguns ingredientes ali para caracterizar a situação de publicidade opressiva.
ConJur
— Bom, no caso do ex-presidente Lula houve a divulgação sistemática de
notícias pressionando os tribunais pela manutenção da prisão e pela
condenação. Houve publicidade opressiva?
Simone Schreiber — Não
posso me posicionar sobre o caso em si, se houve crime ou não, porque
não conheço o processo. Mas há elementos de publicidade opressiva, sim.
Teve a transmissão do Power Point no Jornal Nacional, uma pressão muito
forte da grande mídia. E tem até hoje uma comoção em torno da soltura
dele.
https://www.conjur.com.br/2019-ago-11/entrevista-simone-schreiber-desembargadora-trf







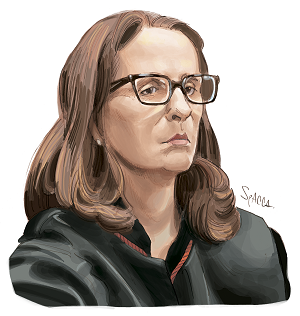 Entre
dezembro de 2015 e agosto de 2016, o Jornal Nacional, da TV Globo,
dedicou 17 horas ao ex-presidente Lula. Treze dessas horas foram de
noticias consideradas negativas e as outras quatro, de notícias neutras.
O levantamento, do projeto Manchetömetro, da Uerj, foi enviado à ONU
pela defesa do ex-presidente.
Entre
dezembro de 2015 e agosto de 2016, o Jornal Nacional, da TV Globo,
dedicou 17 horas ao ex-presidente Lula. Treze dessas horas foram de
noticias consideradas negativas e as outras quatro, de notícias neutras.
O levantamento, do projeto Manchetömetro, da Uerj, foi enviado à ONU
pela defesa do ex-presidente.