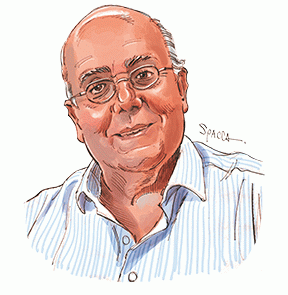Quando
cineastas vão a um tribunal, fazem um filme. Quando advogados vão ao
cinema, escrevem um livro. Dessa combinação de gostos e interesses
resultou Os Advogados Vão ao Cinema, uma obra instigante,
idealizada e coordenada pelo advogado José Roberto de Castro Neves, na
qual ele e mais 39 colegas escrevem sobre filmes relacionados ao Direito
e à Justiça.
Ler o livro é um convite a ir ao cinema ver ou rever
os filmes em tela. Mas não esperem um livro de crítica. Advogados são
especialistas em defender causas, mais do que em apontar defeitos e
virtudes. E é isso que os signatários de cada um dos 40 ensaios se
propõe a fazer: defender o seu filme preferido, a importância da
Justiça, o império da lei e do Direito e, last but not least (o
livro está cheio de citações em inglês nem sempre acompanhadas de
tradução), a imprescindibilidade do advogado em cada história e na vida
real.
Como bem lembra Francisco Müssnich, o personagem Atticus Finch, do filme O Sol é para todos
foi eleito pelo American Film Institute, em 2003, o maior herói do
cinema americano. Finch, interpretado por Gregory Peck em papel que lhe
valeu um Oscar de Melhor Ator, era um advogado, obviamente. Em segundo
lugar, como informa Rodrigo Garcia da Fonseca, nos comentários de Filadélfia, ficou Indiana Jones e em terceiro James Bond, que estão mais para justiceiros do que para defensores.
O
justiceiro, por sinal, é uma invenção do cinema que criou e alimentou
um dos gêneros mais exitosos e populares da sétima arte: o faroeste.
Repletos de ação e de tiros, os filmes que retratam a saga da conquista
do oeste americano, contam sempre como a lei era imposta sem a menor
alusão ao devido processo legal por aquelas bandas. No final, não
importa como, o bem sempre prevalece. Como advertem os letreiros no
final de filmes “baseados em fatos reais”: “Alguma semelhança com algum
juiz e procuradores de um país do sul do mundo em sua suposta luta
contra a corrupção não é mera coincidência”.
Um justiceiro mais
sutil pode ser visto no cinema na figura do advogado que acaba se
colocando acima mesmo do devido processo. É o que se infere em Amistad,
analisado pela advogada Selma Ferreira Lemes, no livro. O filme conta a
história de um grupo de homens que são aprisionados em alto mar pela
marinha americana, depois de se rebelarem e tomarem o controle do navio
Amistad, de bandeira espanhola, em que eram transportados como escravos.
Caberia
à Justiça dos Estados Unidos dizer se aqueles homens haviam nascido em
Cuba, de onde partiu o navio, e nesse caso eram escravos, e, portanto,
propriedade dos traficantes que os transportavam na embarcação; ou se
haviam nascido na África, caso em que seriam homens livres e vítimas do
tráfico de escravos, já considerado ilegal por um tratado assinado por
Espanha e Inglaterra.
A “carga” humana transportada pelo navio era
reivindicada pela Espanha, já que a nave navegava sob bandeira
espanhola; pelos traficantes, que se diziam seus proprietários; pela
marinha americana, que alegava seu direito de obter o resgate pela
interceptação de um navio considerado pirata; pela Justiça americana,
que pretendia punir os africanos com a morte pelo assassinato da
tripulação do navio no motim; e pelos próprios réus, que alegavam seu
direito à liberdade.
A história e os muitos debates que ela
envolve, muito bem descritos por Selma Lemes no livro, são empolgantes.
Mas, no final das contas, o que decide a questão a favor da liberdade
dos africanos, mais do que os argumentos e o devido processo, é a
atuação e a presença desequilibrante de um grande advogado — John Quincy
Adams, nada menos do que ex-presidente dos Estados Unidos. O filme é
baseado em um acontecimento verídico da história.
Boa parte dos
filmes analisados é baseada em “fatos da vida real”. O que acaba criando
um delicioso círculo vicioso em que a vida imita a arte e vice-versa.
Mais de um autor destaca que essa é uma das razões que explicam o
fascínio que os “filmes de tribunal” exercem não só sobre os
realizadores como também sobre as plateias.
Poucas cenas são mais
dramáticas do que uma sessão do Júri, com as intervenções apaixonantes
da acusação e da defesa, a surpresa das provas, a emoção dos depoimentos
de testemunhas e das partes e o suspense da sentença final. Sem falar
que tanto no cinema quanto no tribunal, a matéria-prima fundamental é o
conflito. Mesmo na comédia romântica mais açucarada, o beijo final da
mocinha e do mocinho é precedido por um aparente insuperável litígio
inicial.
A diferença é que, na vida real, são raríssimos os casos
em que, quando tudo parece perdido e a injustiça vai se consumar,
aparece uma testemunha inesperada com a prova mais improvável para mudar
tudo e restabelecer o triunfo da verdade e da Justiça. Como bem lembra o
advogado (fictício) Joe Miller, no filme Filadélfia: “Senhoras
e senhores do júri: esqueçam tudo que viram na televisão e nos filmes.
Não haverá testemunhas de última hora, de surpresa, ninguém vai desabar
em lágrimas durante o depoimento com uma confissão. Fatos simples serão
apresentados a vocês. Andrew Beckett foi demitido e vocês escutarão duas
explicações sobre porque ele foi demitido: a nossa e a deles. Cabe a
vocês decidirem qual é a mais verdadeira”. No caso, é a ficção imitando a
vida.
Anderson Schreiber, procurador do Estado do Rio de Janeiro,
demonstra com muita propriedade que no caso dos personagens da saga
interplanetária de Star Wars, nem sempre o mau é mau ou o bom é
bom. Muito pelo contrário, todo mal contém algo de bom e todo bem leva
algo de mau. O que é uma lição preciosíssima tanto para o dia a dia dos
humanos como para a tomada de decisão dos julgadores nos tribunais.
“Em resumo, pode-se dizer que, bem vistas as coisas, temos em Star Wars heróis que não são tão heróis e vilões que não são tão vilões assim”, escreve Schreiber. “E
que diabos isso tem a ver com a advocacia?”, ele pergunta. E responde:
“O advogado é, por definição, um estudioso da natureza humana. A
primeira versão, a mais óbvia, nunca o convence. E na progressiva
investigação da verdade, ocasionalmente, heróis transformam-se em vilões
e vilões, em heróis”.
Mas que diabos tem a ver Star Wars com o mundo jurídico? A resposta vem no artigo seguinte do livro, de autoria do desembargador federal do TRF-2 Marcus Abraham. “A
saga de Star Wars inicia-se na narrativa do prólogo do Episódio I – A
Ameaça Fantasma (1999), a partir de uma disputa sobre a tributação
extorsivas das rotas comerciais, o que acaba desencadeando uma série de
eventos até fazer eclodir uma rebelião”.
Em seu ensaio, Abraham faz a correlação de Star Wars
com grandes revoluções do planeta Terra que tiveram em sua origem a
rebelião contra o abusos tributários: “Repete-se nas telas a realidade
telúrica de excessos cometidos por reis e imperadores e que
desencadearam inúmeras rebeliões ao longo da história recente da
humanidade, tais como as revoluções Americana e Francesa e, entre nós, a
Inconfidência Mineira”. O autor lembra de outra revolta ainda: a da
nobreza e do clero britânicos contra o furor arrecadatório do rei João
Sem Terra que resultou na assinatura da Magna Carta em 1215, que é tida
como a primeira Constituição da história.
Ao contrário de Star Wars, que precisa fundamentar sua inclusão na lista de trial movies, filmes como Doze Homens e uma Sentença, O Sol por Testemunha, ou Amistad são autênticos filmes de tribunal e não poderiam faltar no livro dos advogados cinéfilos. Doze homens...
é uma rara produção em que os personagens principais são os jurados que
debatem para decidir o veredicto de um jovem acusado de homicídio.
“Cada jurado literalmente trancado na sala de deliberações, defronta-se
com seus limites, sua humanidade e seus apanágios. A culpa ou a
inocência do réu, a dúvida “além do razoável, as alegadas provas do
crime e regras legais servem para um trabalho racional, mas
necessariamente afetado pelas idiossincrasias e os preconceitos”, diz
José Inácio Cercal Fucci, o comentarista da fita. Fucci faz ainda a
contextualização histórica do filme e aponta como, em pleno macartismo, o
filme “pode ser visto como uma louvável tentativa de representação do
poder dissuasório da minoria frente à maioria”. Nada mais atual, embora o
filme seja de 1957.
Um filme precisa, mais do que tudo, de uma
boa história para ser um bom filme. Ou de um livro, que conta a história
original. Gustavo Binenbojm e Letícia Binenbojm se empolgaram tanto com
a história da professora Deborah Lipstadt que parecem ter esquecido que
o livro para o qual foram convidados a colaborar era sobre filmes. O
livro de Lipstadt trata do processo que ela sofreu do escritor David
Irving, autor de um livro que nega a ocorrência do Holocausto. No livro Denying the Holocaust,
Lipstadt qualifica Irving como “partidário de Hitler, que distorceu
evidências para alcançar conclusões históricas insustentáveis”. Ao ser
processada por difamação por Irving, “Lipstadt optou pela única rota
moralmente possível: a exceção da verdade. As palavras utilizadas por
Deborah em seu livro podiam ser ofensivas, mas eram verdadeiras, o que
descaracterizaria a difamação”, relatam Gustavo e Letícia. Comentam com
brilho o fato histórico, a disputa jurídica, mas passam batidos pelo
filme propriamente dito. A história justifica.
Além disso, os
advogados que foram ao cinema para escrever o livro escolheram filmes
que além da boa história contivesse uma boa lição de Direito: a defesa
do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal, do direito
de defesa, estes são as verdadeiras causas por trás de cada história. Ou
que ensinasse como funciona ou deixa de funcionar a Justiça. “O filme
põe em relevo, sobretudo, a surpreendente dinâmica da vida que a
estrutura processual é incapaz de acompanhar”, diz a ex-ministra e
ex-presidente do STF, Ellen Gracie, ao comentar o filme A História de Qiu Ju.
O
filme do diretor chinês Zhang Yimou, conta a história da moça que
processa o comissário que agrediu seu marido numa briga. Mais tarde, o
comissário salva sua vida, as famílias se reconciliam, mas o processo
segue em frente até a condenação e prisão do antigo agressor e, agora,
amigo e benfeitor. A lição que Ellen Gracie tira: “Diminui-se a noção de
infalibilidade dos pronunciamentos jurisdicionais que são apenas o
substituto — pouco satisfatório — para uma solução proposta pelas partes
envolvidas no conflito”. E conclui a ex-ministra: “Julgar é, antes de
mais nada, um exercício de humildade, diante da insuficiência de nossos
conhecimentos e esforços bem-intencionados para abranger a dinâmica das
relações humanas na sua inteireza”.
O criminalista Luís Guilherme Vieira tira suas lições ao comentar o filme Justiça para Todos,
uma conturbada trama que vai colocar em choque os papeis do advogado e
do juiz. “No âmbito do Estado Democrático de Direito, sedimentado por
modelo constitucional acusatório, a ação penal constitui garantia de que
suposto transgressor sé será sentenciado após o devido processo legal”.
E aplica o que viu no filme ao momento atual brasileiro: “Juízes fogem
da missão de condutores-garantidores da escorreita relação processual e
se tornam protagonistas do processo penal, atuando na busca de provas,
como se acusadores públicos fosse. E relativizando procedimento e
direitos fundamentais, em prol do suposto combate à criminalidade, que
não lhes compete, por força de norma constitucional”.
No último
capítulo, o advogado Luiz Olavo Batista relembra que além dos 40 filmes
colocados em julgamento pelos nobres colegas, há muito o que ver nas
telas falando de Justiça e Direito. Anatomia de um crime (1959), de Otto Preminger; Julgamento em Nuremberg (1961), dirigido por Stanley Kramer (não confundir com O julgamento de Nuremberg, de 2000, com Alec Baldwin, que também merece ser visto); O veredito (1982), com Paul Newman; O advogado do Diabo (1997), com Al Pacino; O informante (1999), outro com Al Pacino; O povo contra Larry Flint (1996), de Milos Forman; Erin Brockovich: uma mulher de talento (2000), com Julia Roberts; A condenação, com Hilary Swank; O júri (2003), com John Cusack mais Dustin Hoffman e Gene Hackman; A ponte dos espiões (2015), com Tom Hanks.
A
lista de “esquecidos” é interminável, o que comprova a impossibilidade
de atender a todos os gostos e preferências. Mas, pelo menos para ter um
brasileiro na fita, deveria ter sido incluído O caso dos irmãos Naves
(1967), um clássico do gênero que relata a história real de um dos mais
conhecidos erros judiciários da nossa história. De todos os modos, não
surpreende que das 40 obras apresentadas, apenas nove não são dos
Estados Unidos.
Clique aqui para ver a ficha técnica de cada filme e os autores dos comentários no livro Os Advogados Vão ao Cinema.